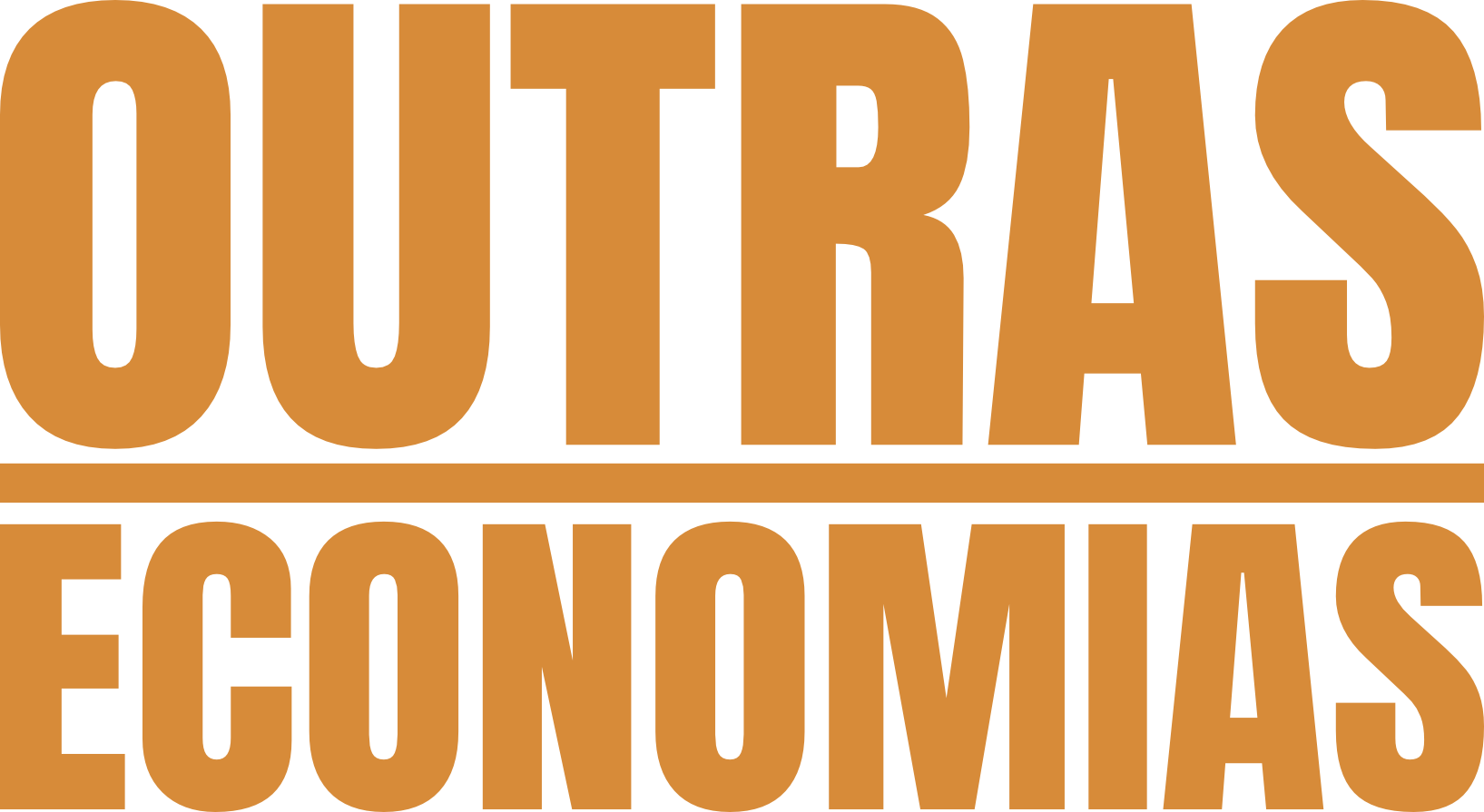Acordos de Comércio Livre:
O que são e com que linhas se cosem?
Luciana Ghiotto, Investigadora do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina), professora na Universidad Nacional de San Martín e colaboradora do Transnational Institute.
Tempo aproximado de leitura: 15 minutos
Os Acordos de Comércio Livre (ACL) são tratados internacionais entre dois ou mais países que reduzem ou eliminam as barreiras comerciais, como as tarifas, para facilitar o comércio e o investimento entre eles. Abrangem, geralmente, uma vasta gama de setores industriais e outros setores, incluindo bens, serviços, investimentos, compras públicas e direitos de propriedade intelectual.
Embora, muitas vezes, anunciados como impulsionadores do crescimento económico e da cooperação a nível global, tendem a priorizar os interesses das empresas em detrimento dos/das trabalhadores/as, das pequenas comunidades e do ambiente. Os acordos envolvem, geralmente, a harmonização das regulamentações nacionais entre os países envolvidos, incluindo a harmonização de normas regulamentares técnicas, de segurança alimentar, proteção ambiental e de outras áreas.
Os ACL pressionam, frequentemente, no sentido da desregulação, enfraquecem os direitos laborais, enfraquecem os mecanismos de proteção ambiental e concedem às empresas multinacionais ferramentas como a resolução de litígios entre investidores e Estados (ISDS), permitindo-lhes processar os governos por implementarem políticas que protegem o bem-estar público. Para além disso, os ACL agravam as desigualdades económicas, porque beneficiam os países ricos e as grandes empresas, enquanto comprometem as economias locais e as proteções sociais e ambientais.
É crucial fazer-se uma crítica exaustiva destes Acordos, para garantir que as políticas de comércio priorizam as pessoas e não os lucros das empresas.
A Ilusão da Prosperidade Através do Comércio Livre
Os Acordos de Comércio Livre têm sido o pilar da globalização neoliberal desde o final do século XX. Os seus proponentes celebram-nos como motores do crescimento económico, da criação de emprego e da cooperação a nível global. No entanto, estas narrativas obscurecem uma realidade muito mais preocupante: estes acordos priorizam sistematicamente os interesses das empresas em detrimento do bem-estar humano, da sustentabilidade ambiental e da governação democrática.
Neste texto, iremos analisar em que medida os ACL representam mecanismos de acumulação de capital à custa dos/as trabalhadores/as, das comunidades e dos ecossistemas de todo o mundo.
1 Para saber mais sobre o posicionamento dos movimentos sociais relativamente ao TPP-11, ver: Chile Mejor sin TLC a Boric por el TPP11: “Está en sus manos evitarle al país un tratado que subordina la soberanía económica” « Diario y Radio Universidad Chile
Os acordos comerciais modernos representam muito mais do que simples reduções das tarifas alfandegárias. Estabeleceram vastos quadros jurídicos que reestruturam as relações económicas transfronteiriças. Indo muito além das preocupações/questões comerciais tradicionais, abrangem direitos de investimento, propriedade intelectual, serviços públicos, compras públicas e normas regulamentares. Esta abrangência mais ampla mais alargado reflete décadas de lobby e de influência por parte de grandes empresas nas negociações das políticas comerciais.
O próprio processo negocial destes acordos revela profundos défices democráticos. As negociações comerciais decorrem à porta fechada, às quais os representantes das empresas têm acesso privilegiado, enquanto que movimentos sociais, sindicatos, ativistas ambientais e até Dirigentes democraticamente eleitos são deixados de fora. Por exemplo, durante as negociações da Parceria Transpacífica (TPP-11), centenas de consultores empresariais tiveram acesso direto às primeiras versões do documento, enquanto que o público em geral e muitos legisladores foram privados de tal transparência1. Este processo secreto permite a captura das políticas comerciais por parte das empresas, incorporando, assim, interesses privados em acordos internacionais juridicamente vinculativos.

Esta assimetria estrutural é intensificada pela complexidade técnica destes acordos. A linguagem jurídica densa que os carateriza, estendida por milhares de páginas, cria barreiras à compreensão e participação públicas. Esta complexidade não é um acaso, serve para obscurecer as relações de poder e fazer com que as cláusulas favoráveis às empresas pareçam normas técnicas neutras em vez de escolhas políticas com profundas consequências distributivas.
Mecanismos que reforçam o poder das empresas
Os ACL contêm vários mecanismos-chave que fortalecem sistematicamente o capital em detrimento da governação democrática e do bem-estar social. Talvez o mais notório seja o sistema de Resolução de Litígios entre Investidores e Estado (ISDS), que concede aos investidores estrangeiros o direito extraordinário de processar governos soberanos em tribunais privados quando implementam políticas públicas que, alegadamente, prejudicam os seus lucros — mesmo se essas políticas protegem a saúde pública, os direitos laborais ou o ambiente.
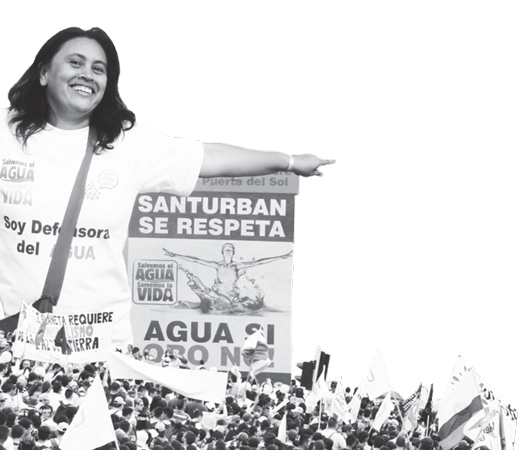
Ao abrigo do ISDS, as empresas multinacionais acionam processos contra as regulamentações, incluindo as que estão relacionadas com a proteção do meio ambiente, a saúde pública, as normas laborais e operações financeiras. Por exemplo, a Philip Morris iniciou ações legais contra a Austrália e o Uruguai em resposta às medidas de controlo do tabaco, por parte destes países. Da mesma forma, a Eco Oro interpôs uma ação judicial contra a Colômbia após a implementação de medidas estatais de proteção ambiental que limitaram a mineração nas zonas húmidas de Santurbán. São numerosos os casos, em que as empresas procuram obter indemnizações substanciais dos governos quando estes promulgam políticas que servem o interesse público. Isto levou à chamada “intimidação regulatória”2, ou seja, os Estados passaram a ponderar a introdução ou não de salvaguardas que são necessárias, devido ao potencial de disputas legais dispendiosas.
2 NT: em inglês, “regulatory chill”.
Para além do sistema ISDS, os acordos de comércio livre também enfraquecem a capacidade dos governos de criarem as suas próprias leis, ao introduzirem requisitos denominados “coerência regulatória” e normas contra barreiras não-tarifárias. Estes termos aparentemente sofisticados escondem um objetivo simples: limitar a capacidade dos governos democráticos controlarem as empresas. Estas normas obrigam os governos a justificar qualquer nova regulamentação, demostrando que não irá ter muitos custos para as empresas. Esta abordagem valoriza o lucro, que pode ser facilmente medido em dólares, em detrimento de benefícios mais difíceis de medir, como o ar não poluído, a segurança dos/das trabalhadores/as ou a saúde pública. Como consequência, as regulamentações criadas para proteger as pessoas e o ambiente são tratadas como “barreiras comerciais”, que necessitam de justificação especial, e não como a necessária proteção do bem-estar público.
Custos sociais e ecológicos
A promessa teórica do comércio livre (de que os ganhos de eficiência económica beneficiariam todas as pessoas através de vantagens comparativas) não se concretizou para a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras e das comunidades. Pelo contrário, os ACL facilitaram uma corrida para o fundo do poço em termos de normas laborais, salvaguardas ambientais e serviços públicos. Os mercados de trabalho foram profundamente reestruturados pelos ACL, com a transferência de empregos na indústria dos países do Norte para regiões com salários mais baixos e menos proteções.
No Sul Global, o desenvolvimento esperado de uma industrialização orientada para a exportação resultou, frequentemente, em condições de trabalho abusivas nas zonas de processamento de exportação3, onde os direitos laborais são sistematicamente restringidos. Ao contrário das promessas feitas na década de 1990, o leque de produtos de exportação dos países da América Latina que assinaram acordos comerciais com os Estados Unidos ou com a União Europeia, continua concentrado em produtos primários, como peixe, batata, soja, carne, café, fruta, petróleo e gás, e minerais.

A degradação ambiental é outra consequência profunda da liberalização comercial. As cadeias de abastecimento globais, com utilização intensiva de carbono, estimuladas pelos ACL, contribuem significativamente para as alterações climáticas. As restrições regulamentares patentes nos acordos comerciais limitam a ação dos governos no apoio a sistemas de produção local com menor pegada ecológica. E os acordos ambientais adicionais aos ACL revelaram-se em grande medida simbólicos, por carecerem de mecanismos de aplicação eficazes4.
O impacto ambiental do comércio livre revela as contradições fundamentais da lógica irracional de circulação de mercadorias do capitalismo global. Este sistema criou vias absurdas para a comercialização de commodities, em que os produtos viajam milhares de quilómetros — atravessando amiúde oceanos, várias vezes, durante a sua produção — apenas para rentabilizar as diferenças de custo da mão-de-obra ou aproveitar vantagens fiscais. O transporte marítimo gera aproximadamente 3% das emissões globais de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que contamina os oceanos através de trocas de água de lastro que introduzem espécies invasoras, derrames de petróleo e poluição sonora subaquática que perturba os ecossistemas marinhos.
3 NT: em inglês, “export processing zones”. Trata-se de áreas, dentro dos países, nas quais os produtos podem ser fabricados, reconfigurados, armazenados, importados e reexportados sob regulamentação aduaneira específica e, geralmente, não sujeitos a direitos aduaneiros.
4 Por exemplo, já depois de assinado o acordo UE-Mercosul em 2019, e na sequência das críticas quanto às consequências ambientais do acordo, a UE elaborou uma declaração interpretativa adicional que negociou com os parceiros do Mercosul; porém, estas declarações adicionais apenas têm valor interpretativo em termos jurídicos e não podem alterar o texto do acordo.
Para além do comércio controlado pelas empresas: visões alternativas

Ao contrário do que afirma, a retórica nacionalista predominante não consegue responder às desigualdades sistémicas de forma eficaz. Embora alegue defender os/as trabalhadores/as americanos/as dos efeitos adversos da globalização, a implementação de tarifas sob a administração Trump fortalece, paradoxalmente, o capital transnacional. Ao impor tarifas elevadas, o Estado está efetivamente a proteger as empresas americanas da concorrência internacional, aumentando, assim, a sua capacidade para competir com as principais empresas chinesas, especialmente em setores como a tecnologia e a transição energética. O nacionalismo económico de Trump não representa um desvio genuíno dos princípios neoliberais. Significa, pelo contrário, uma adaptação que sustenta o domínio do capital, ao mesmo tempo que oferece concessões simbólicas à mão-de-obra americana.
As tarifas funcionam, regra geral, como medidas políticas que criam uma impressão de oposição às forças económicas globais, mas intensificam os problemas a que pretendem responder. O que faz falta não é nacionalismo económico, mas sim cooperação transnacional entre trabalhadoras/es e ativistas para reformar um sistema que impulsiona a crise climática e que fortalece as empresas. Esta estratégia deve reconhecer a forma como o capital usa o sentimento nacionalista para fragmentar a unidade de classe. Esta cooperação é crucial para o desenvolvimento de estruturas económicas que priorizem as necessidades humanas em detrimento do lucro.
Na economia global, os acordos de comércio livre – como são atualmente designados – servem de infraestrutura legal para o domínio das grandes empresas. Ao restringir a governação democrática, ao dar mais poder aos investidores do que aos e às cidadãs e ao mercantilizar os bens públicos, estes acordos aceleram a desigualdade económica e a destruição ecológica.
No início de 2025, assistimos à disrupção do regime comercial neoliberal provocada pelas tarifas impostas por Donald Trump. A abordagem de Trump aos problemas deste regime comercial não é a que os movimentos sociais de todo o mundo têm vindo a discutir/debater nas últimas três décadas. Estes movimentos enfatizam que a questão não se limita aos direitos aduaneiros, mas abrange o comércio livre em geral, uma vez que este conduz a um maior poder das empresas e a uma estrutura jurídica global que limita a capacidade dos Estados de regular e proteger os direitos humanos e ambientais.
Para saber mais
Bilaterals.org, Por qué son nocivos los tratados de libre comercio
Democracy Now, Zapatista Uprising 20 Years Later: How Indigenous Mexicans Stood Up Against NAFTA “Death Sentence”
Filme “Ouro Verde” (La Promesse verte, 2024): drama ecológico e político realizado por Édouard Bergeon. Martin, estudante de antropologia, é preso no Bornéu, Indonésia, acusado injustamente de tráfico de drogas. Na verdade, Martin estava a investigar os impactos ambientais e sociais da produção de óleo de palma, uma indústria que promove a desflorestação em larga escala.