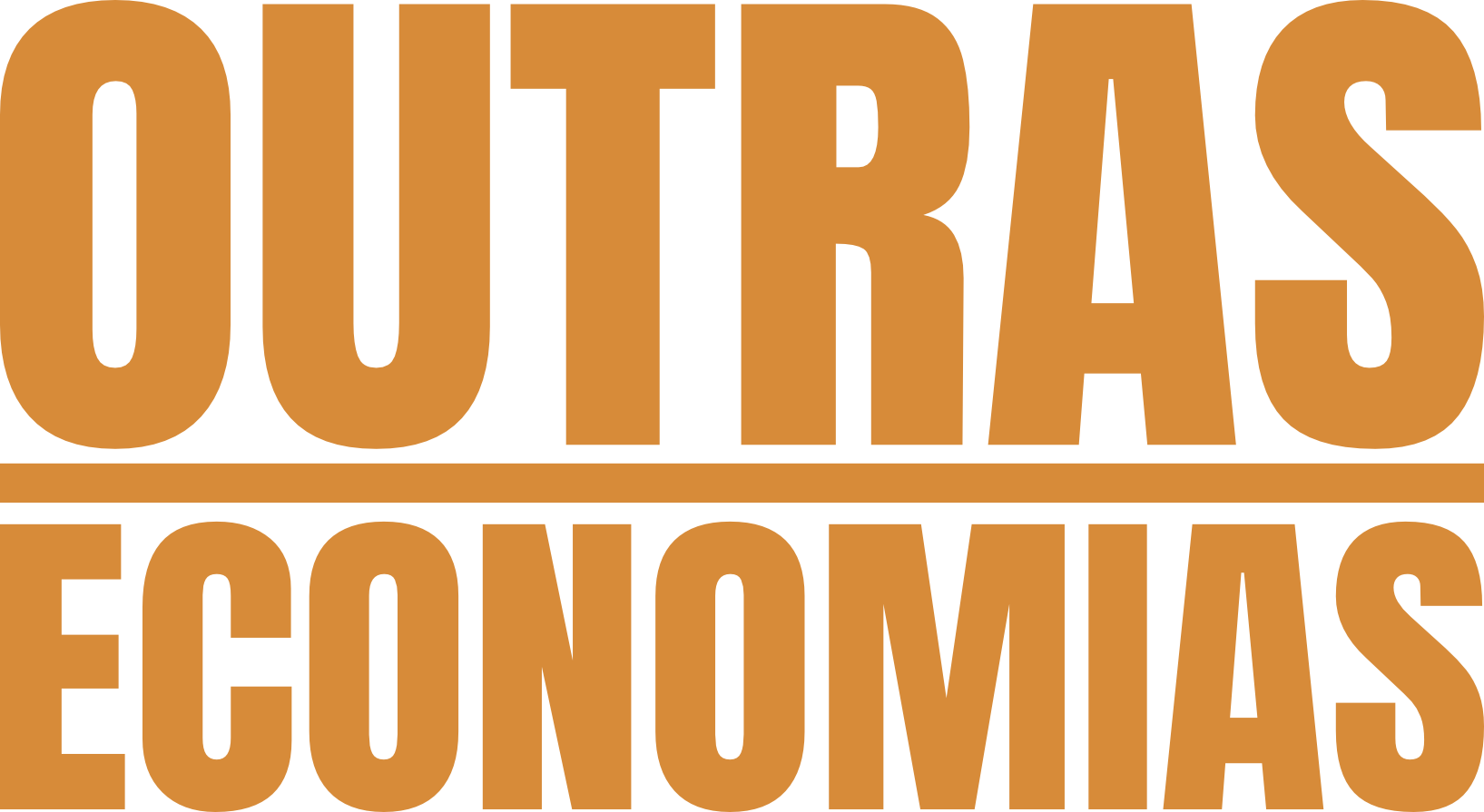É subversivo falar de campesinato?
Silvia Perez-Victoria, sócio-economista, docente no Mestrado de Agroecologia – Um enfoque de transformação sustentável dos sistemas agro-alimentares, da Universidade Internacional da Andaluzia. É também membro da associação La ligne d’horizon-les amis de François Partant.
Tradução: Aurora Santos
Fotos: Silvia Perez-Victoria
Tempo aproximado de leitura: 14 minutos
Silvia, para começar, podias dizer-nos o que é, na tua opinião, o campesinato? A quem nos referimos ou consideramos dentro desta «categoria», por assim dizer?
Durante milhares de anos praticamente toda a humanidade foi camponesa. Os camponeses e as camponesas instalaram-se em meios naturais muito diferentes. Com os seus conhecimentos, a sua forma de gerir os “recursos naturais”, a organização das suas sociedades, souberam adaptar-se a climas e geografias muito variados, melhorando, através do seu trabalho e engenho inovador, a biodiversidade, a qualidade dos solos e dos alimentos. Não nos podemos esquecer que lhes devemos as milhares de variedades de plantas e animais que herdámos.
É claro que ao desaparecerem as sociedades camponesas, que já só existem em algumas partes do mundo, maioritariamente nos países do Sul geopolítico, o papel do campesinato vai mudar. A primeira coisa que é preciso referir é que não há só um tipo de camponês ou pastor ou criador de gado mas sim vários, contrariamente à homogeneidade procurada pela agricultura industrializada. É, por isso, difícil encaixá-lo numa única definição.
Prefiro recorrer a critérios que permitam diferenciar o/a camponês/a atual do/a agricultor/a industrializado/a. Para as pessoas camponesas, mais do que a propriedade da terra, importa o seu uso ou usufruto; produzem sobretudo para o auto-consumo e vendem o que lhes sobra, enquanto que, geralmente, o e a agricultora nunca produz a sua própria comida. O e a camponesa trabalha a sua terra e cuida dos seus animais, ao passo que o/a agricultor/a tem gente que trabalha para ele/a. As pessoas camponesas têm conhecimentos e saberes-fazer próprios, geralmente transmitidos no seu grupo, enquanto que os/as agricultores/as dependem com muita frequência dos técnicos que os/as aconselham. O camponês utiliza tudo o que a natureza lhe dá “gratuitamente”, já a maioria dos agricultores depende do mercado para a totalidade dos fatores de produção. As pessoas camponesas produzem comida, já os e as agricultoras produzem uma matéria-prima que entra no processo agro-alimentar industrializado. As relações sócio-económicas camponesas baseiam-se mais no apoio mútuo do que na competitividade. Existe, também, uma “racionalidade camponesa” que se distingue da “racionalidade economicista”. A forma em que uns e outros cumprem estes critérios permite definir o grau de “campesinização”. Poder-se-iam adicionar mais critérios mas parece-me que estes são os fundamentais.
A Pila’ el Arroz, Magín Díaz

Mercado, México
Considerando o que ouvimos, desde a escola até aos meios de comunicação e às políticas públicas, na Europa já não há camponeses/as e sim agricultores/as ou empresários/as agrícolas. Como vês esta questão? Já não há pessoas camponesas? Ou, se as há, porque é que são consideradas algo em perigo de extinção e/ou algo que se deve extinguir?
O desenvolvimento económico que se deu no mundo teve como um dos seus objetivos o desaparecimento do camponesinato. Não nos esqueçamos que nas aulas de economia se aprende que um país desenvolvido é um país sem camponeses/as. Houve em todas as sociedades um trabalho ideológico de desprezo dos e das camponesas. Foram considerados/as como símbolos do atraso, como gente com pouca capacidade, inteligência, etc. Em cada país do mundo, seja qual for o sistema político, podem encontrar-se exemplos deste processo. Quando entraram na União Europeia os chamados “países de Leste”, como a Hungria, Polónia ou Roménia, a primeira coisa que a Comissão comentou foi que havia demasiados camponeses e que isso tinha de mudar. E conseguiram fazê-lo com as suas políticas.
O campo e o campesinato foram explorados como riqueza e mão de obra para a industrialização, como abastecedores de alimentos baratos para os/as operários/as. Atualmente, tanto nas relações com a indústria como nas trocas comerciais internacionais, uma grande riqueza continua a ser extraída do campo. Mas, apesar de toda esta força de destruição, desencadeada sobretudo a partir da II Guerra Mundial, os e as camponesas resistiram. Obviamente são mais numerosos/as nas regiões onde os processos de desenvolvimento foram menos fortes: América Latina, África, Ásia. E, sobretudo, quando já toda a gente pensava que não havia mais camponeses/as, em resposta à globalização que ia aniquilá-los/as, surgiram “novos” movimentos camponeses. Atualmente, 70% dos alimentos consumidos no mundo vem das agriculturas camponesas, utilizando apenas 25% das terras cultivadas.
Como se produziu este processo, que podemos chamar de transformação do campesinato em agricultores/as, ou inclusive a sua aniquilação?
O processo começou, por um lado, com a colonização que transformou as terras camponesas e os povos originários em grandes plantações, por outro lado com a industrialização europeia que começou em meados do século XIX. Este processo acelerou-se depois da II Guerra Mundial. Houve etapas na modernização da agricultura: tração animal, mecanização e motorização, química, genética (a Revolução Verde dos anos 60), biotecnologias, robotização. Todas contribuíram para o êxodo rural, o endividamento, a perda de conhecimento endógeno e o auge dos especialistas, a descida dos preços e a dependência dos subsídios. A consequência foi a perda da autonomia do campesinato. Com a globalização e o aumento das trocas comerciais internacionais na agricultura nos anos 80, os camponeses e agricultores do mundo inteiro competem uns contra os outros e só conta ser super produtivo.

Horta, Estado Espanhol
É possível enquadrar essa transformação dentro da construção histórica (social, económica, política, cultural) do sistema agroalimentar no qual vivemos? De que maneira?
A principal vítima deste desenvolvimento agrícola foi o campesinato, mas este modelo agro-alimentar também teve impacto em toda a sociedade. Em primeiro lugar, a agricultura, que durante milhares de anos contribuiu para “melhorar” a natureza, é agora um dos elementos que mais a tem destruído. A agricultura encontra-se “encravada” dentro do sistema agro-industrial, dependendo deste tanto para produzir, abastecendo-se dos seus fatores de produção, como para distribuir e comercializar os alimentos.
O impacto sobre o meio natural é considerável: contaminação dos solos, da água e do ar, destruição dos solos, perda de biodiversidade, consumo excessivo de água e de energia, contribuição para as alterações climáticas. Mas os efeitos afetam também a alimentação. Este sistema não alimenta porque não está feito para isso, está feito para ganhar dinheiro. Se for mais rentável produzir milho para fazer agro-combustível do que para alimentar as pessoas, o sistema agro-alimentar não terá dúvida nenhuma em fazê-lo. Quando alimenta, fá-lo mal, e a obesidade no mundo é já um facto sistémico.
O grau de concentração e de financeirização é tal que só umas poucas empresas multinacionais dominam os mercados, tanto dos fatores de produção como da transformação e distribuição dos alimentos.

Horta, Mali
O sistema agro-alimentar globalizado, que abrange a transformação e distribuição dos alimentos, está dominado por umas poucas corporações cujo único objetivo é fazer dinheiro. Sobretudo depois da II Guerra Mundial, estas corporações expandiram-se, impondo mudanças nas formas tradicionais de comer das pessoas. Por exemplo, substituir o consumo de arroz por pão nos países asiáticos.
É um sistema que pressiona os/as camponeses/as e agricultores/as, deixando-lhes sem poder na negociação e definição dos preços. Quanto mais elaborados são os produtos, menos o custo do trabalho agrícola se reflete no preço final.
Temos ainda a ciência e a investigação que procuram ultrapassar a própria agricultura: carne sintética, leite que não é leite, edulcorantes, aromas, etc., à base de produtos químicos.
Finalmente, este sistema produz “alimentos-lixo” que envenenam ou adoecem as pessoas. Seria importante voltar a uma comida mais natural, elaborada pelas próprias pessoas.
Os Estados acompanham, com as suas políticas, estes processos. Até mesmo nos países onde há uma grande percentagem de camponeses/as, os Estados “modernizam” a agricultura. Nenhum Estado no mundo apoia o seu campesinato.
Do ponto de vista da saúde, tem-se comprovado a ligação entre sistema agro-alimentar e muitas doenças graves como as alergias, as infertilidades, o cancro, o Alzheimer, ou o Parkinson, e outras como a listeria e a salmolenose.
Na realidade, as corporações multinacionais são as únicas que saem beneficiadas deste sistema.
Como vês os movimentos e lutas camponesas, e a sua força social, em diferentes contextos?
Historicamente, o campesinato participou em todas as lutas sociais do mundo; lutas de libertação nacional e descolonização, revoluções. Também tiveram lutas sindicais próprias, lutas pelos seus direitos, ou lutas conjuntamente com outros movimentos como os sindicatos operários.
Quando a globalização se expandiu, o campesinato decidiu organizar-se num movimento mundial pela primeira vez na história. Em 1994, nasce La Via Campesina, um movimento de pessoas camponesas, pastoras, criadoras de gado, trabalhadores/as agrícolas, povos originários, mulheres rurais, pescadores/as. Conta com mais de 200 milhões de membros, 182 organizações em 81 países. É o maior movimento social no mundo. Luta e ao mesmo tempo propõe alternativas. As principais lutas são pela terra, água, sementes, pelo reconhecimento dos seus saberes-fazer, pela soberania alimentar dos povos, contra a proletarização do campesinato.
Como se pode ver, não se trata de fazer reivindicações corporativistas mas sim de tentar contrariar os efeitos destrutivos do sistema agro-industrial nas sociedades, do ponto de vista da qualidade do que comemos, da saúde, do meio-ambiente e das relações campo-cidade.
A 17 de dezembro de 2018, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Camponeses e de Outras Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais, que reconhece grande parte das reivindicações dos movimentos camponeses.
O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil (MST) nasce em 1984, depois de uma ditadura feroz que aniquilou todos os sindicatos camponeses, num país que se caracteriza por uma forte desigualdade na propriedade da terra. O movimento começou a ocupar terra, fazendo marchas, e conseguiu terra que os latifundiários não cultivavam. Organizaram-se assentamentos, cooperativas e “ecovilas”, que permitiram a muitas famílias trabalhar e viver. Inicialmente seguiram um modelo de agricultura industrial (inclusive com soja transgénica) mas pouco a pouco evoluíram para um modelo de agricultura camponesa, privilegiando o auto-consumo.
Atualmente, nos territórios do MST há 350 000 famílias a viver, em 1200 municípios, correspondente a 8 milhões de hectares. Têm escolas e sistema de saúde próprios. Também têm formações internas em agroecologia. Estão a desenvolver uma “Reforma agrária popular” que permita reorientar ainda mais a produção alimentar, instalar indústrias alimentares locais e promover atividades culturais.
O MST tem um papel importante dentro da Via Campesina. Apoiou, entre outros, os movimentos de Moçambique e da África do Sul (estes últimos para ocupar terra).
Para terminar: é subversivo falar de campesinato?
Há cada vez mais organizações internacionais, Estados, investigadores/as, que negam que continuem a existir camponeses/as. Em inglês “peasant” só se refere aos países do Sul, atribuindo-lhes pobreza e incapacidade de saber gerir os “recursos” de forma “produtiva”. Por isso, há que continuar a “desenvolvê-los”, até que não fique nenhum (“um país desenvolvido é um país sem camponeses”). Os e as camponesas do Brasil lutam para que se reconheça uma agricultura “camponesa” e não uma agricultura “familiar”. Agricultura familiar é o termo que utilizam as organizações internacionais para negar a existência dos e das camponeses/as, e isso apesar do maior movimento social do mundo ser camponês. Isto deve-se à ideologia do progresso e desenvolvimento que todas as correntes políticas e todas as instâncias de poder do mundo partilham. Olha-se sempre para a frente, nunca para trás, para o que se perde. Todo o processo de industrialização foi construído à custa dos e das camponesas. Eles e elas representam um “passado” que ninguém quer ver mais. A proposta de movimentos como La Via Campesina supõe uma transformação radical das sociedades, e não apenas baseando-se no passado.
Para saber mais
ETC Group, Who will feed us? The peasant food web vs The industrial food chain, 2017
Silvia Perez-Victoria, El retorno de los campesinos – Una oportunidad para nuestra supervivencia, Editorial Icaria
Via Campesina, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales – Livro ilustrado em castelhano