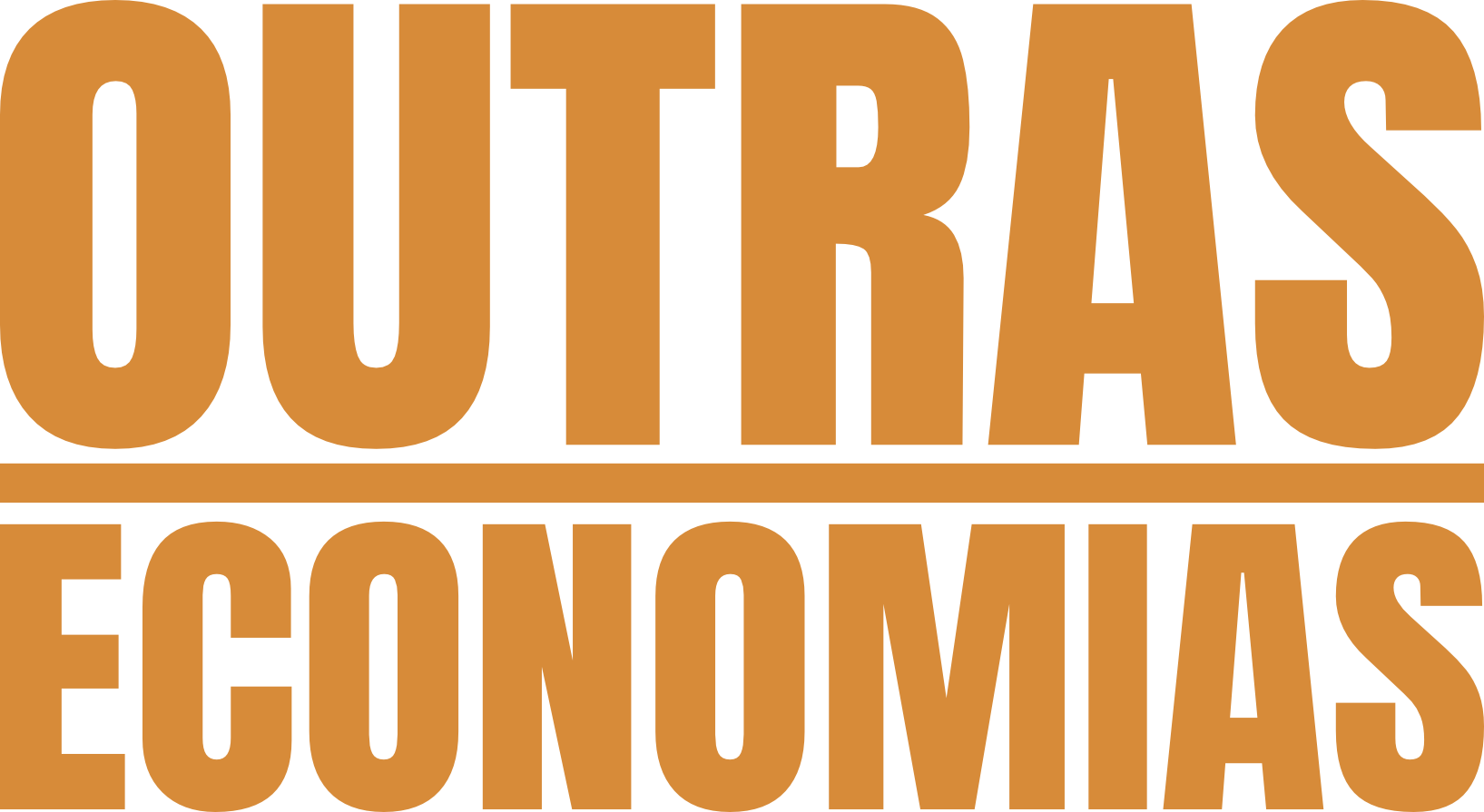“É para o gasto da casa” - Desafiando noções de economia
CIDAC
Tempo aproximado de leitura: 21 minutos
Travessia do deserto, José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias
“Para compreender dimensões não-econômicas da economia camponesa é preciso antes relativizar a própria noção de economia. Necessita-se de uma abordagem em que a economia seja vista enquanto parte constituinte das relações sociais, ou seja, deve-se ter uma visão diferenciada do conjunto de relações que permeia o tecido social, dando um caráter mais amplo à economia, para além de uma perspectiva neoclássica, em que a economia é vista como esfera autônoma da vida social.”
E. e K. Woortman
Quando pensamos em economia o que nos vem à cabeça? Trabalho, salário, lucro, dificuldades, pessoas ricas, pobres, mercados, bolsas, poupanças, dinheiro, crédito, débito, bancos, contas, produção, consumo…
Economia, na raiz grega da palavra, significa “a gestão da casa” (oikos), noção que foi evoluindo para “gestão dos recursos existentes para dar resposta às necessidades”. E assume, hoje, múltiplos significados, estando muito longe da gestão da casa e do colmatar das necessidades básicas dos seres humanos (pelo menos, de alguns).
Uma das principais necessidades básicas dos seres vivos é alimentar-se. O alimento está na base da nossa existência física (social, cultural). Sem alimento pouco podemos fazer. No entanto, quantos de nós fazemos o nosso próprio alimento? Quem produz o arroz ou as cenouras que come? Não precisamos de o fazer porque alguém – ou quiçá uma máquina – o fará por nós… Grande parte da população delega uma dimensão fundamental da sua vida: a produção do alimento (apenas 26% da população mundial trabalha na agricultura, dados 2022, FAO) e, aparentemente, isso é positivo. Tal como nos contam, deixar de trabalhar a terra, de fazer o alimento, foi e é uma libertação. Mas se não o fazemos, como fazemos para nos alimentarmos? Compramos.
Compramos comida que, muitas vezes, é produzida, transformada, metabolizada através de continentes. E se o metabolismo pára? Temos ainda memória dos tempos do COVID, em que ouvimos falar de cadeias de abastecimento interrompidas e de rupturas de stocks. Pouco tempo depois, com a guerra na Ucrânia, os preços de alguns alimentos dispararam, porque se perdera o acesso aos cereais ucranianos. Também durante os confinamentos, muitas pessoas começaram a fazer pão, outras, com acesso a terra, hortas. Algumas para passarem o tempo, outras para cuidarem da sua subsistência. Embora fujamos constantemente desse estado: o da subsistência.
Contam-nos que a história da Humanidade é o escapar da subsistência para atingir o desafogo da abundância. Subsistência significa pobreza, atraso, carência, estagnação, falta de produtividade, arreigo ao antigo. É irracional e equivale a subdesenvolvimento. Diz que ainda há, lá nos países do sul, uma tal economia de subsistência, e por isso são pobres.
Às vezes, poucas porém, a palavra pode ter uma conotação mais feliz e significar autoconsumo, autosuficiência, autonomia. Dizem-nos os dicionários: “Característica ou condição de subsistente; Persistência, permanência ou preservação; Aglomerado de recursos essenciais à existência ou à vida; alimentação ou mantimento; Designação de resistência ou sobrevivência em termos materiais.” ou “Conjunto de coisas essenciais para a preservação da vida; sustento, alimentação, víveres: garantir a subsistência da família; agricultura de subsistência. Estado ou particularidade daquilo que subsiste; estabilidade, permanência, sobrevivência”. A palavra ganha outros contornos: sustento, permanência, estabilidade, recursos essenciais à existência ou à vida.

Troca de sementes entre camponeses/as da Guiné-Bissau, Senegal, Togo, Burkina Faso
A conotação pejorativa de subsistência, em particular quando agregada à agricultura (ouvimos também falar de “agricultura de subsistência”), tem uma história. A história da modernização ocidental, que podemos situar por volta do séc. XVII, e que passou pelas chamadas revoluções agrícola e industrial1, que conduziram à reorganização da vida, desde o trabalho à geografia, por exemplo, com uma crescente centralidade das cidades. A modernização – em si mesmo um vocábulo com conotação positiva e usado em contraposição a “tradição” – implicou um conjunto de mudanças técnicas, económicas e culturais que alteraram o mundo rural, na Europa como em todo o mundo, porque este processo se expandiu através do colonialismo europeu, cunhando visões enraizadas nas nossas mentalidades de progresso e desenvolvimento. Esta grande transformação levou, por um lado, a que se pense a economia apenas de uma forma: a economia de mercado, e, por outro, à sua autonomização face a outras esferas da vida: social, cultural, política, religiosa, etc.
1 Dois processos históricos, iniciados em Inglaterra, nos sécs. XVIII e XIX. A revolução agrícola levou à transformação da propriedade rural – através das chamadas “enclosures” – das comunidades camponesas para a nobreza e burguesia; através da introdução de novas espécies vegetais e animais e de processos de produção mecanizados. A revolução industrial foi o processo de mecanização e massificação da transformação das matérias-primas, por exemplo, do têxtil.
2 De acordo com a teoria marxista, a mais-valia é o valor produzido pelos/as trabalhadores/as além do salário que lhes é pago. Isto é, os e as trabalhadoras realizam um pedaço de riqueza necessário a pagar o seu salário (chamado “trabalho necessário”) mas produzem mais do que isso (“trabalho excedentário”). É essa diferença entre o valor que lhes é pago em salário e o valor total que produzem que se chama mais-valia, e que se traduz em lucro para os e as empregadoras.
Embora para muitos/as de nós isto já não faça sentido, houve um tempo (que é o tempo de muitas comunidades humanas ainda hoje) em que não se separava trabalho da produção, do consumo, da família, da comunidade, das emoções, da cultura… Mesmo as palavras “produzir” e “consumir” inexistiam. Essa separação, que se deu com a modernização, é vista como uma libertação, uma emancipação. A cidade, a tecnologia, o salário, o indivíduo são os baluartes desta visão de mundo e da economia, em particular. A que acresce a divisão e especialização crescentes do trabalho. Estes elementos, no seu conjunto, trariam, em teoria, abundância e desenvolvimento. Para tal, havia que libertar-se das amarras da terra e ter um trabalho e um salário. Na Europa, este processo começou com as enclosures e sedimentou-se com a revolução industrial. Libertar-se da terra significou, para muitos e muitas camponesas, verem-se encerrados/as em fábricas, de sol a sol, e passarem a receber um mísero salário pelo trabalho realizado, para poderem comprar o que comer.
Terra e trabalho assalariado passaram a ser fatores de produção, à semelhança das máquinas, com um valor monetário correspondente. E o trabalho assalariado como o fator que cria mais-valia2, fundamental para a acumulação de riqueza. Mas terra e trabalho foram e continuam a ser dois elementos que correspondem a muito mais do que um valor monetário para as pessoas camponesas. Eles traduzem relações sociais e relações com a natureza. Traduzem valores, cultura, espiritualidade, crenças. Traduzem também autonomia e a possibilidade de ter o que é fundamental à vida: alimento. Fazer o que é essencial à vida e à sua permanência é o significado forte de “subsistir”.
Economia de subsistência
“O objetivo da oikonomia não era o acúmulo de dinheiro, mas a satisfação das necessidades básicas de todos os membros da família. É isso o que significa subsistência.” Maria Mies
“É ter a reprodução da vida no centro das estratégias económicas. A produção e reprodução estão ao serviço das necessidades ligadas à vida sem passar pelo dinheiro ou pelo capital.”
Veronika Bennholdt-Thomsen3
Vemos assim entrelaçadas a dimensão produtiva e a dimensão reprodutiva (vida). Uma não existe sem a outra. Sem reprodução da vida, sem todas as tarefas que a asseguram, desde que nascemos até que morremos – que podemos chamar de “trabalho de cuidado” – não existem, desde logo, trabalhadores e trabalhadoras. Este trabalho, tal como o trabalho inerente à produção de alimento é, no entanto, invisível, porque, por um lado, na economia de mercado não se lhe dá valor (monetário e não só), e por outro, porque quem o leva a cabo é visto e tratado como subalterno, atrasado, como à margem, como um obstáculo. Falamos das mulheres, das pessoas idosas, das pessoas camponesas, pescadoras, pastoras…
Na visão económica em que crescemos, o processo de produção comanda a reprodução. Reproduzimo-nos para criar trabalhadores/as que, por sua vez, produzem. Na leitura da subsistência, os dois processos estão interligados, a esfera da produção e da reprodução, bem como a do trabalho e do consumo são a mesma: a casa, a terra, a horta… E a produção serve a reprodução. Na economia de subsistência, os bens produzidos visam, em primeiro lugar, a cobertura das necessidades mínimas da existência e não a orientação para o mercado. Visam… a economia da casa e não a economia do capital.

Camponeses/as em Kunming, província de Yunnan, China
Agricultura de subsistência
“É para o gasto da casa” e “fazemos de tudo um pouco!” são expressões que ouvimos na boca de agricultores/as e de pessoas que fazem hortas. “Fazer”4 a própria comida para o autoabastecimento da casa, da família (restrita e alargada) é a base da autosuficência. Mas esse fazer não é limitado nem pobre. Pelo contrário, no mundo camponês existe uma diversificação produtiva para assegurar ao máximo todas as necessidades: produz-se alimentação variada (hortícolas, frutícolas, ovos, galinhas…), madeira para aquecer, animais para tração, para estrumar a terra, etc. (Gallar).
A diversificação de culturas assegura não apenas uma alimentação variada como, do ponto de vista agrícola, previne pragas, porque as variedades quando cultivadas em conjunto fortificam-se, e, do ponto de vista mais vasto dos ecossistemas, possibilita que mais animais (e outras plantas) beneficiem dessa riqueza.
3 Veronika Bennholdt-Thomsen, Maria Mies e Claudia von Werlhof, antropólogas alemãs, criaram a escola ou teoria feminista da subsistência (que mais tarde integrou as correntes ecofeministas), numa leitura crítica tanto do liberalismo desenvolvimentista e colonial como do marxismo, trazendo para a discussão económica o lugar das mulheres, do trabalho de cuidado e trabalho reprodutivo como centrais para a economia.
4 Van der Ploeg fala de “modo de fazer agricultura” para se distanciar de “modo de produção”. O uso da expressão “fazer” (horta, comida) por parte de hortelões é testemunhada, por exemplo, em Fonseca e Pinto-Correia.

Essa diversidade segue os ritmos das estações e do que a terra dá, mas os excedentes podem ser guardados para o inverno (por exemplo, fazendo compotas), trocados ou vendidos. Podem também alimentar animais ou produzir húmus. Vão-se fechando ciclos, baseando a produção da vida no território que se habita, desde a (re)produção das sementes à biomassa para estrumar a terra até ao fabrico das próprias alfaias agrícolas. Produzir ao máximo no território que se habita equivale a comprar menos fora desse território. Este é o princípio da autonomia.
Esta autonomia não significa, porém, isolamento. Dar, trocar, vender com quem está nas redondezas ou até mais longe (Quem nunca recebeu uns quilos de batatas lá “da terra”? Ou pensemos nas rotas do sal que ligavam o interior e o litoral dos países, constituindo o sal um ingrediente fundamental para a conservação dos alimentos antes do surgimento da refrigeração) são práticas habituais. São formas de circulação, de troca ou dádiva que tornam ações económicas em ações sociais (Polanyi). Essa dimensão social, coletiva, passa por outras práticas como o recurso a outros/as nas tarefas agrícolas, as chamadas “ajudadas”, ou pela partilha de terras, bosques, prados, águas, rebanhos, fornos, matadouros, lagares comunitários… Em Portugal, as terras e prados comunitários são conhecidos, ao norte, como Baldios ou Maninhos, e, a sul, como Aduas. O seu uso comunitário constitui uma fonte de autonomia (coletiva) através da interdependência.
O trabalho, que não corresponde na agricultura de subsistência a um salário, corresponde, porém a outras dimensões: permite controlar o processo de produção; cria a base de recursos, em coprodução com a natureza, necessária à produção; cria aprendizagens e novas formas de fazer, porque não se faz sempre tudo da mesma maneira. Do trabalho fazem parte a observação e a experimentação (não é só a ciência que o faz), tarefas pouco produtivas. Experimenta-se uma semente que a vizinha deu. Colocam-se uns CDs velhos em estacas ou nas árvores em vez de espantalhos para afugentar a passarada.
Mas o trabalho é intenso, é de sol a sol. E para ele todos os braços são preciosos, em primeiro lugar os da família. O trabalho pode, assim, significar autoexploração… E o controle (do trabalho em coprodução com a natureza) nunca é total, porque a relação com a natureza não é necessariamente simbiótica. Pode vir sol a mais ou chuva a menos. E como consequência: a escassez.
A escassez faz parte da subsistência. O espectro da miséria e da falta de alimentos leva que os e as camponesas “joguem pelo seguro”. Experimentam sim, mas procuram a segurança, a certeza que parte do seu trabalho dará frutos, o que se traduz em atitudes aparentemente conservadoras, como meio de evitar a diminuição de recursos: uma “ética da subsistência” (Scott).
Terra e Liberdade
Elemento fundamental da agricultura de subsistência é a terra. A terra não é concebida pelos e pelas camponesas como uma simples mercadoria, mas como um património, material sim, mas sobretudo como base dos seus recursos. É o que lhes permite fazer o alimento. E mais até do que objeto de trabalho e de exploração física, a terra é o espaço social da família (Woortman, E. e K.).
“Patrimônio aqui não se restringe à noção de propriedade privada. Não obstante ter valor de mercado, o que regula a transmissão da terra, para além do valor de troca, é seu valor de uso.”
E. e K. Woortman
Voltamos à ideia inicial: o que importa não é o valor monetário de algo, mas as possibilidades desse algo permitir satisfazer necessidades básicas, no sentido de necessidades ligadas à manutenção da vida (por exemplo, o valor de uma enxada é dar a possibilidade de cavar a terra)5. E quando se fala de património não significa a propriedade total da terra, mas o acesso a ela. O que desafia também a noção hegemónica de propriedade. Quando pensamos no acesso a uma coisa, pensamos na sua propriedade ou, quando muito, no seu arrendamento. Mas as formas de acesso, no que diz respeito à terra, têm sido múltiplas6 ao longo da história, desde logo, o acesso comunitário como já mencionado.
Quando titular ou proprietário/a de um pedaço de terra, o ou a agricultora pode vendê-la (ou trocá-la por outro) mas fá-lo para obter dinheiro para cobrir outras necessidades. Não tem como objetivo principal a mercantilização da terra e o lucro. O que não quer dizer que na agricultura de subsistência não se almeje o lucro ou que o lucro provenha apenas de atividades agrícolas, a diferença está no objetivo desse lucro: não é a acumulação. O dinheiro ganho pode ser necessário para comprar o que não se produz, para pagar impostos, contas, dívidas, rendas …
Não visar o lucro, acima de tudo, nem a acumulação é visto por uns como a demonstração da irracionalidade económica da agricultura camponesa e, por outros, como uma “economia moral” (Scott). A esta economia moral correspondem mecanismos niveladores que limitam a acumulação (por exemplo, em algumas sociedades a obrigatoriedade do dote no casamento), mas também uma economia pautada pelos valores da dignidade, generosidade, reciprocidade e entreajuda (Guzmán e Soler, 2010).
5 Esta é a acepção de “valor de uso”. Na teoria marxista, as coisas têm um valor de uso e um valor de troca. Por este último, entende-se o valor de uma coisa ou produto em relação a outro, expresso pelo seu preço no mercado, que é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para sua produção, num determinado contexto e temporalidade.
6 Posse, arrendamento, cedência, empréstimo, foro, enfiteuse…
Agricultura de subsistência vs Império agroindustrial
A base ecológica, moral, social, cultural do campesinato e do que podemos chamar de “agricultura de subsistência” foi e é continuamente ameaçada, desde a revolução agrícola à industrialização da agricultura, potenciada pela “revolução verde”, e não apenas no quadro do sistema capitalista, mas também no quadro dos sistemas socialistas. O modo de vida camponês é antagónico a ambos os sistemas e os seus braços, bem como a sua terra, são vitais para os alimentar. A usurpação, a exploração e a colonização da vida – dos seres vivos e dos seres inertes que compõem o planeta – são a fonte da acumulação de riqueza.
A história do desmantelamento da agricultura ou da economia de subsistência consistiu – e continua a consistir por todo o mundo, do Barroso até ao Congo – na despossessão e na destruição da natureza. Se a agricultura de subsistência procura produzir e reproduzir os recursos – por exemplo: planto tomates para comer, mas também para guardar semente para o próximo ano – o seu contrário é produzir para consumir e desperdiçar e, em última análise, destruir – por exemplo, planto milhares de hectares de milho transgénico, dos quais grande parte vai para alimentar animais, cuja carne em parte irá alimentar seres humanos, outra parte irá acabar no lixo (desperdício alimentar). Ao plantar hectares de milho, uso toneladas de herbicida que destroem a terra onde planto e a água que por ela corre. Para o ano tenho que comprar mais sementes, herbicida … Construir, reconstruir ou destruir (com) a natureza: a primeira grande diferença entre racionalidades económicas e agrícolas.

Para plantar tomate, uso a semente que colhi o ano passado ou peço à minha vizinha. Ou compro sementes comerciais, que só sobrevivem se eu comprar e usar também herbicida e pesticida. Os custos sobem. Vou vender o que fiz a mais ao mercado. Ninguém compra: dizem que é muito caro. Vou vender ao supermercado. O dono compra-me o tomate a 0,02 cêntimos o quilo. A terra onde cultivava era dos meus pais, mas não tinha papéis que o comprovassem. Uma empresa chegou e disse que era dela, mas que me arrendavam. Não aceitei. Fiquei sem terra. Fui para mais longe, onde arrendei outro pedaço por um valor mais baixo. Mas mesmo assim, estou sem dinheiro. Vou pedir um empréstimo ao banco ou tento obter um subsídio da PAC. Não consigo sequer fazer para o gasto da casa. Autonomia ou dependência: segunda grande diferença entre racionalidades económicas e agrícolas.
Falámos acima de interdependência (na autonomia) e agora de dependência. Duas palavras parentes, mas cujos significados diferem. Relações de dependência implicam controle, poder, hierarquia. Interdependência significa relações de coexistência e partilha. E é na situação de dependência que a maioria dos e das camponesas (agricultores/as familiares, pequenos/as agricultores/as, como lhes quisermos chamar) se encontram hoje.
“O objetivo essencial das relações sociais é a satisfação das necessidades materiais. Isso requer e requereu sempre a apropriação dos recursos naturais para a produção de bens com um valor de uso histórico e culturalmente dado, mediante o consumo de uma quantidade determinada de energia e materiais e o emprego de um saber e instrumentos de produção adequados”.
Sevilla Guzmán e Molina
A agricultura de subsistência, que podemos fazer equivaler à agricultura camponesa, pela sua forma de gestão dos recursos existentes, produzindo alimentos enquanto continua a produzir natureza, é o caminho (passado, presente e futuro) para a famosa sustentabilidade. Ela constitui, simultaneamente, uma eco-nomia e uma eco-logia.
Subsistência: algo porque vale a pena lutar?
A economia e agricultura de subsistência descritas ao longo do texto não existiram ou existem, claramente, como modelos perfeitos ou ideais. E afastam-se rapidamente dessa idealização. A autonomia, mesmo que parcial, implicada na subsistência é cada vez mais uma miragem, sobretudo no norte geopolítico. Os modos de vida mudaram significativamente e com eles os saberes e as práticas. Porém, os e as camponesas e o seu modo de fazer agricultura persistem (Molina e Sevilla Guzmán). Não é preciso andar muito, mesmo nas cidades, para vermos uma pequena horta que desponta. A subsistência clama. Fazer o próprio alimento é para muitos e muitas como um coração que palpita e que resiste ao betão, à escassez de água, à predação da terra. Esse invisível que resiste está, como dizem nuestros ermanos e ermanas: “bajo el aslfato”, debaixo do asfalto e da obliteração e depreciação intencionais a que foi submetido. Recuperar esses conhecimentos, práticas e paisagens é o mote da agroecologia camponesa.

Podemos não querer ou conseguir voltar a pôr as mãos na terra e fazer o nosso alimento, mas parece fundamental questionarmo-nos e desafiarmos a forma como vemos (e o que sabemos sobre) economia, trabalho, necessidades, abundância e escassez. Questionarmo-nos se queremos continuar a delegar, a comprar, a consumir… a depender de. Questionar – mas não demasiado retoricamente – os impactos e os custos dessa suposta abundância, ou se quisermos colocá-lo frontalmente: quantos recursos são necessários para a não subsistência?
Subsistência assenta na produção do alimento, mas vai além dela porque existem outras necessidades – básicas – das comunidades humanas. Mas temos que começar por algum lado. Porque não pela (maior) autonomia na produção de comida, seja através da compra direta a agricultores/as (em circuitos curtos, AMAPs, CSAs…), seja pressionando para que as cantinas públicas sejam aprovisionadas por estes, ou construindo sistemas mais abrangentes e populares como as caixas alimentares? Esta não é uma visão de nacionalismo, protecionismo ou isolacionismo mas de soberania alimentar e de reapropriação da vida.
Bibliografia
Fonseca, C. e Pinto-Correia, T. Local food production – vegetable gardens as resistance strategies? An exploratory study in Montemor-o-Novo (Portugal). Proceedings of the XXVI European Society for Rural Sociology Congress, Aberdeen, Scotland, 2015, pp. 51-52.
Gallar, David. Economías campesinas como cultura a rescatar. Soberanía Alimentaria. nº 12
Hespanha, P. Com os Pés na Terra. Práticas Fundiárias da População Rural Portuguesa. Afrontamento. Porto, 1994.
Van der Ploeg, J. D. Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 2008.
Polanyi, K. The Economy as Instituted Process. In: Polanyi, K., Arensberg, C., Pearson, H. Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory. Gateway Edition. Chicago, 1975.
Rosset, Peter; Torres, María Helena. Agroecología, territorio, recampesinización y movimientos sociales, Estudios Sociales, vol. 25, n.º. 47, jan-jun 2016, pp. 275-299.
Santos, Aurora; Fonseca, Cecília; Pedro, Sérgio. Desconstruindo os sistemas agroalimentares, e-cadernos CES, n.º 34, 2020.
Scott, James. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press, 1976.
Sevilla Guzman, Eduardo; Montiel, Marta, Del desarollo rural a agroecologia. Hacia un cambio de paradigma. Documentación social, n.º 155, pp. 23-39, 2009.
Sevilla Guzman, Eduardo; de Molina, Manuel. Sobre a evolução do conceito de campesinato. La Via Campesina. Brasília, 2005.
Shanin, Theodor. Naturaleza y logica de la economia camponesa. Angrama. Barcelona, 1976.
Soulèvements de la Terre. “Perspectivas de subsistência”. In: Primeiros Abalos. Tigre de Papel. Lisboa, 2025.
Woortman, Ellen; Woortman, Klaas. O trabalho da terra. UnB. Brasília, 1977.
Woortman, K. “Com parente não se neguceja”. O campesinato como ordem moral. In Anuário Antropológico 87. Editora Universitária de Brasília/Tempo Brasileiro. Brasília, 1990.
Para saber mais
Sobre Aduas: Freguesia da Granja, Alentejo
Sobre Baldios:
Jornal MAPA, Baldio da Serra de Serpa
Jornal MAPA, En Todas as Mans. Baldios e Montes Vizinhais: um futuro em mão comum
Rita Serra e Patrícia Ferreira, Governação comunitária de florestas para crianças – kit pedagógico
Sobre hortas:
Varela Pedro, Novas raízes na cidade: sociabilidades nas hortas urbanas de cabo-verdianos na Amadora (tese)